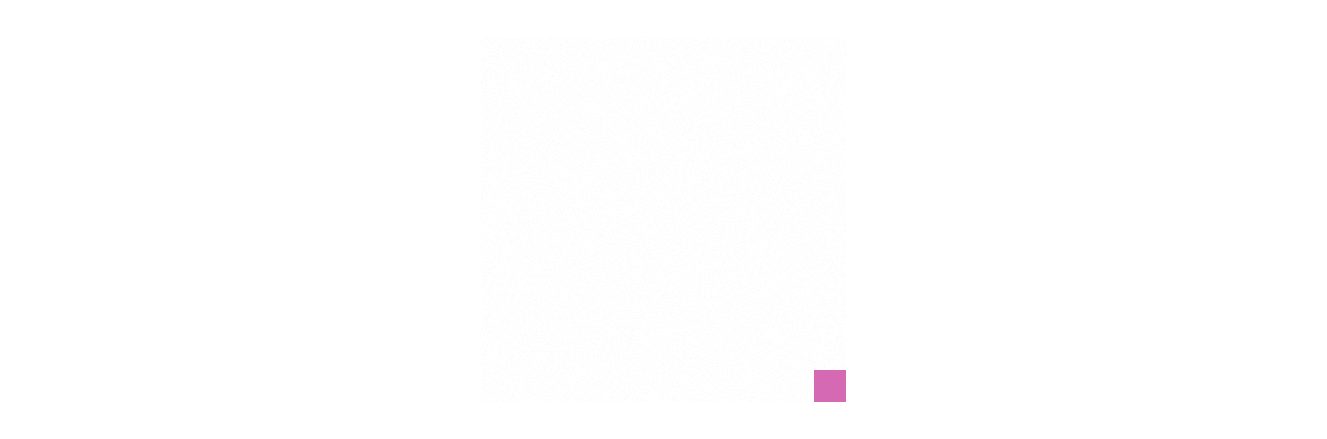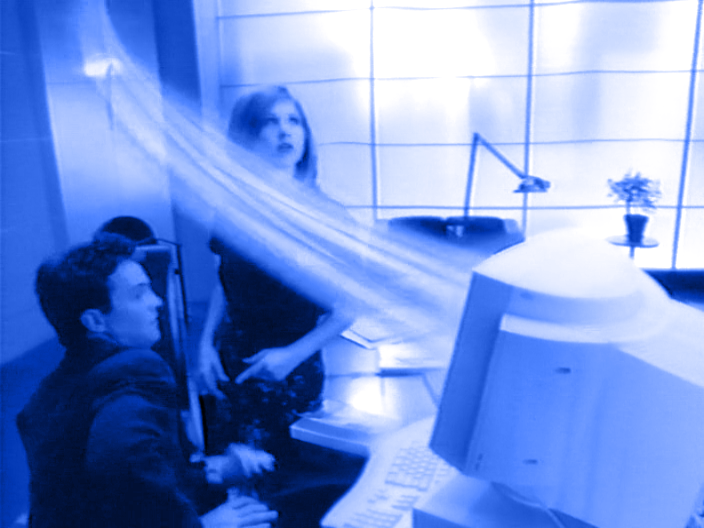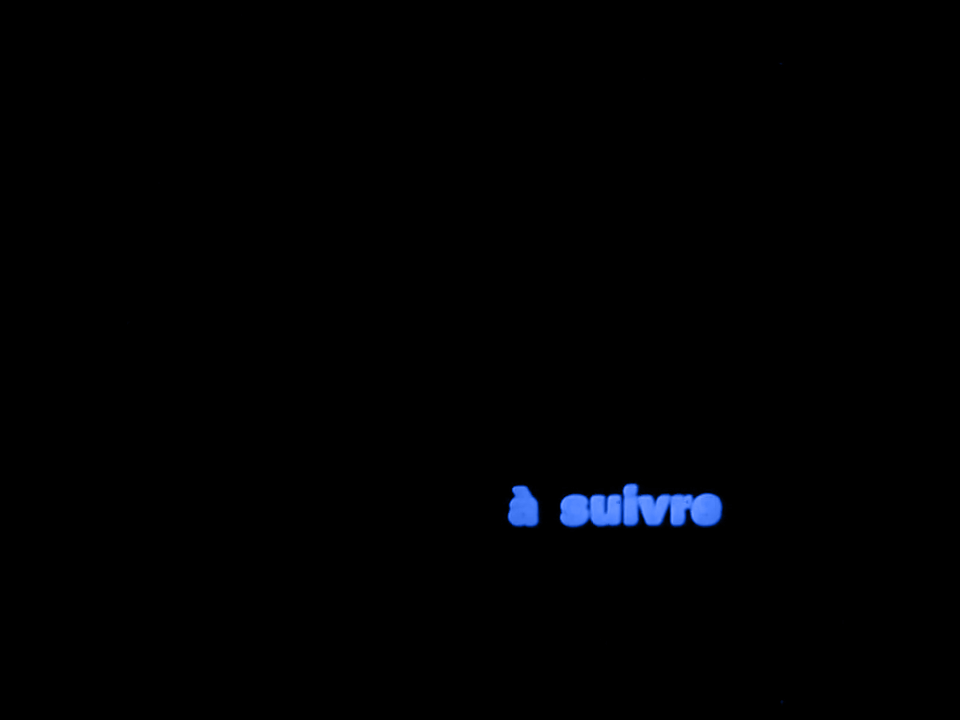zero.
O que diria o “homem ordinário” de Schefer quando pela primeira vez desde o advento da invenção sem futuro lhe foi deliberadamente negado o direito/dever de frequentar a sala escura? “Como todo ano, o Delegado Geral irá revelar os nomes dos filmes angariados com a insígnia Cannes de aprovação quando do seu lançamento em cinemas”, dizem outros. Cartas nostálgicas brotam; manifestos são escritos. “Especificidade da tela grande”. Cinema como Instituição? Aumont lembrava da definição desta como “maneiras de pensar, sentir e se comportar que se impõem aos indivíduos” no seu dicionário. Seria isso, então? Impossível, não chegamos nem nos anos 30.
Ah, sim, Langlois, sempre ele. Digo, HENRI, agora uma plataforma digital que tem na sua lista coisas de Feuillade ainda desconhecidas. E onde está Godard? Deleuze insistiria na pedagogia da imagem: em uma live do Instagram, obviamente.
O natimorto dos Lumière só está ainda aí porque é a própria âncora de uma genealogia das imagens, o diapasão de tudo que lhe sucedeu e sucederá; coisas das quais ele não pode abrir mão, entretanto. Nesse caminho sem volta, ele é a reminiscência de um pedaço de mundo no aparato, o fio teimoso que nos ata ao núcleo de rotação da Terra. É isto: a imagem-cinema só o é porque é impura, mundana, com “m” minúsculo. O “depois de”, um estrato que não existe alheio ao fluxo de imagens, para o surto das viúvas.
O “prazer de ver” virou cisco no olho, e essa é a boa notícia.
I. Não pense que eu vou gritar (2019), Frank Beauvais
Muito se comentou ano passado a respeito de duas classes de público de cinema na atualidade, aparentemente bem distintas.
Que fique bem claro, há muito mais coisa em comum entre a macmahonice cirandeira de quinta mão (aut⊖ur, enfim) e a retrofobia algorítmica do twitter do que o contrário. Se uma cancela, a outra chancela, afinal, inegavelmente, lê bastante: lê quando vê, lê quando fala, lê quando escreve; não há exegese, só exercício de sinonímia. Em comum entre as duas o automatismo que rechaça a lida, a práxis, a tensão, o girar a roleta e pagar pra ver inescapável a qualquer ato de sobrevivência. Como isso se chama eu não sei, a que “c” se filia muito menos. Só sei que o oxigênio disponível está muito mais perto do ad hoc do que da cartilha. Amor refletido, algo entre Roger Tailleur e o dildo.
Se digo isso aqui é porque este filme é no mínimo um lembrete do óbvio: o único movimento possível se faz a partir das imagens, e não o inverso. Enfrentamento, faca no dente com tudo que sei e que posso perder em um contracampo. Não adianta, mesmo o copo de leite de Hitchcock em Suspeita estava ali para servir a um antes e um depois, e simplesmente não existe separado de um cruzamento pessoal e intransferível que o apreende.
Após o final deste filme, o que são todas essas imagens? Onde está a intenção de quem as criou? Quem as criou? Onde está? Lembrei agora de quando li pela primeira vez aquela frase famosa e bem antiga no livro do Wollen: “não há código objetivo; a crítica de cinema pode existir de fato, mas não de direito”. Será que ela não envelheceu tão mal assim, afinal?
II. Une histoire roulante (1906), Alice Guy-Blaché
“Poderemos observar com razão que se O balão vermelho não deve essencialmente nada à montagem, ele recorre a ela acidentalmente. (..) A realização do filme exigiu com certeza várias proezas. Mais de uma cena, dentre as mais espetaculares, foram rodadas quase sem truques e, em todo caso, a despeito de certos perigos. (..) A montagem só pode ser utilizada dentro de limites precisos, sob pena de atentar contra a própria ontologia da fábula cinematográfica. Não é permitido ao realizador escamotear, com o campo/contracampo, a dificuldade de mostrar dois aspectos simultâneos de uma ação. Foi o que Albert Lamorisse compreendeu perfeitamente na sequência da caça ao coelho (…). Se nos esforçarmos agora para definir a dificuldade, me parece que poderíamos estabelecer em lei estética o seguinte princípio: “quando o essencial de um acontecimento depende de uma presença simultânea de dois ou mais fatores da ação, a montagem fica proibida.”
– André Bazin, Cahiers du cinéma, 1953.
III. Ad Astra (2019), James Gray
O que acontece quando um aristotélico de carteira assinada resolve justamente se topar com próprios limites do “Todo”?
Sempre considerei a principal virtude do Gray ser uma espécie de espectro daquela organicidade viscontiana, cronicamente defeituosa, que se desmantela de dentro para fora e sem deixar pontas soltas. Algo como uma iteratividade persistente, uma cristalização teimosa do ideal clássico como pose na penumbra à Deren que insiste em assombrar as imagens malandras e calejadas deste século. Caminho sem volta é um exemplo de excelência nesse sentido.
Ver uma entidade metafísica se brindar com imagens estanques, incapazes de por pelo menos dois raccords nos presentear com o esquecimento de que por detrás delas há alguém que com muito cuidado e diligência justapôs um plano bonito ao lado de outro plano muito bonito, tudo empanturrado por um texto muito bonito recitado por uma voz off de uma onipresença muito bonita, me fez lembrar por alguns instantes por que parei há algum tempo de ver os filmes do Malick. Que ironia.
IV. Microsoft Windows 95 Video Guide (1995), Dominick Rossetti
“O que deixou de ser útil, simplesmente começa a ser.”
– Henri Bergson
V. Fourteen (2019), Dan Sallitt
São raros os momentos em que se tem aquele breve lampejo de que praticamente toda a noção de excesso ou falta na realização de um filme é circunstancial. Tenho plena consciência de que essa é uma afirmação bem irresponsável, mas não há como não ser coagido a esse risco quando a faísca daquele curto-circuito acende – ou apaga, como aquelas lâmpadas nos filmes do Yang quando só resta o estouro após um efeito ousar a se confundir com uma causa.
Imediatamente lembrei daquela afirmação do Derrida que implode qualquer pretensão “essencialista”. (Des)naturalização, e mais nada. Mas quando é que o artifício vira pirotecnia? Melhor, quando se perceberá que só há artifício?
Olho pro lado e só vejo janelas 4:3, câmeras analógicas, cantos arredondados, janelas europeias, 16mm, fetiche (sim, cada um tem os seus) pelo grão, etc. Olha que paradoxo: o diretor aqui choca pois nos lembra pelo mero agenciamento de coisas certas na hora certa justamente o que são (e sempre foram) o digital, o 16:9 e demais glórias: artifícios. E é só por isso que nosso olho ainda teima em brilhar. Ainda a articulação, ainda o contar, ainda o segredo (ou a falta dele) atrás da porta. Juste une image juste, enfim.
VI. Barbie también puede estar triste (2001), Albertina Carri
“1 POSE
2 SPRINKLE
3 REATUALIZAÇÃO
4 INSCRIÇÃO
5 PRODUÇÃO QUEER
6 MASCULINIDADES FEMININAS
7 FETICHES
8 CONTRASSEXO
9 BELLADONNA
10 IMAGENS PÓS-PORNOGRÁFICAS”
– Tim Stüttgen, Dez fragmentos sobre uma cartografia de política pós-pornográfica, 2007 (grifos meus).
VII. O que arde (2019), Oliver Laxe
“Oh, como estou sofrendo. Nenhum de vocês sabe mais do que eu como sofrer.”
– Kira Muratova sobre os filmes de Tarkovski, 1998
VIII. Labyrinth of Cinema (2019), Nobuhiko Ôbayashi
Acho que já comentei outras vezes sobre a definição de horror, e se repito é porque essa obsessão me convence cada vez mais de que ele sempre está envolvido em qualquer manifestação audiovisual, variando só em seu grau. Ora, se terror é se deparar com um beco sem saída, o que seria seu inverso, se é que existe? É essa outra coisa que me interessa dessa vez. Existiriam assim dois polos, e todos os filmes do mundo flutuariam (ou nem tanto) nesse intervalo. Não há juízo de valor aqui, e está bem claro que não estou usando o termo estritamente na sua acepção de gênero cinematográfico.
Medo, arrebato, angústia, êxtase, desespero, euforia, dor, gozo, treva, graça, enfim, cruzem-se destas variáveis todos os arranjos disponíveis e o que estamos mapeando é nada menos que aquilo do que realmente sempre se tratou por essas bandas, e não tem como ser de outra forma: se essa é uma criação sobre a qual os próprios detentores da patente fizeram questão de afirmar de antemão “isso não vai dar certo”, resta óbvio que falar de cinema é (e sempre foi) falar de possibilidade.
Quando Daney escreveu sua famosa taxonomia das classes de imagens cinematográficas, em uma cronologia que seguindo uma certa tradição tomava emprestado o paradigma de outras formas de arte, o que ele estava fazendo era apenas identificar e elencar as estéticas disponíveis às possibilidades em determinada circunstância, em especial duas delas, que de forma alguma obedeceram a uma causalidade linear e coerente, como se costuma afirmar. Nada mais que isso.
Mas em que ponto nos encontramos nessa trajetória, atualmente? Assumindo que qualquer menção à transcendência do “e agora, o que mais?” e à imanência da planura da imagem como superfície obsedante é irrelevante, pois ambas estão contidas há um bom tempo numa aventura que é mais arqueológica do que qualquer outra coisa, de pouco vale essa tripartição para nós. Termino de ver este filme e depois de uma piscada a tela se remonta e agora reflete: seria essa realmente a pergunta certa?
Nesse labirinto não há sucessão de planos de direito, o que seria ainda efeito do deslizar sobre que se iniciou talvez lá nos filmes do Syberberg. Não há montagem, só acavalamento. Tudo que existe aqui só o é, foi e será em função daquilo que já possui, daquilo que já sabe; um montar-se como fluxo incessante de tranqueiras que só opera no modo acumulação/descarte. Tudo são camadas, e uma reflexão mais demorada aqui só encontraria abrigo na mera literalidade, pedindo emprestado o conceito de ataque vertical de Deren (só pra depois descobrir que na verdade se trata de uma mera coincidência), ou na teoria do vídeo, onde o conceito de mise-en-page é intrínseco à própria razão de ser de um meio que já não presta mais contas a um referente, se assemelhando mais a uma sinapse, a um pensar, do que a qualquer outra coisa.
Outra boa alternativa é finalmente dar o braço a torcer e admitir que estamos presenciando atitudes que sinalizam o retorno à tapeçaria da janela-filtro de arabescos de Arnheim, à engenhosidade das tentativas-e-erro das vanguardas dos anos 20, as premières vagues, sobre as quais Burch já dava as pistas necessárias para termos descoberto há muito tempo que tudo o que hoje é vendido por uma crítica ainda atolada na “teoria do autor” como advento do “cinema moderno” na verdade já estava ali há muito tempo. É a geração da inventividade, a que Deleuze (aqui rebocado pela fenomenologia) chamava de não-tética, pois, portadora de uma “consciência ingênua”, era “outra coisa”, ainda não tinha ideia do que estava fazendo. Pois essa é a definição que preciso: a de um ato de criação como aposta, a fonte mais democrática da possibilidade.
Voltando a Daney e ao “onde estamos?” da pergunta anterior, em algo que Pasolini também chamaria de empirismo herege, esse moto contínuo de Labyrinth of Cinema indiretamente nos reflete que o que estamos buscando em um sistema (cuja genealogia invariavelmente remeterá à câmera-caneta de Astruc, à Gazette ou a algum outro instante próximo da fundação do próprio conceito de “cinefilia”) na verdade se encontra numa ilha: é a (im)possibilidade como contingência, atravessamento, da mescla para a mescla; transformação no seu sentido mais estrito, quase etimológico. A vingança do incidental, sempre eufemizado: extracampo, rocha do real, caché, Simbólico; resgatar Nana, espremida entre os “dois espaços” de Burch.
IX. Fluid∅ (2017), Shu Lea Cheang
“Ferem meu corpo permanentemente, cometem sobre mim atos terroristas, afirmando que não sou normal, que meu corpo não é normal (..) O pornoterrorismo é minha revanche.”
– Diana Torres Pornoterrorista, entrevista, 2011.
X. Nós nunca estaremos sozinhos novamente (2012), Yann Gonzalez
Computadores fazem arte
As patas do cavalo de Muybridge
Michelangelo pintou a Sistina contrariado
XI. Classe de Luta (1969), Grupo Medvedkine de Besançon