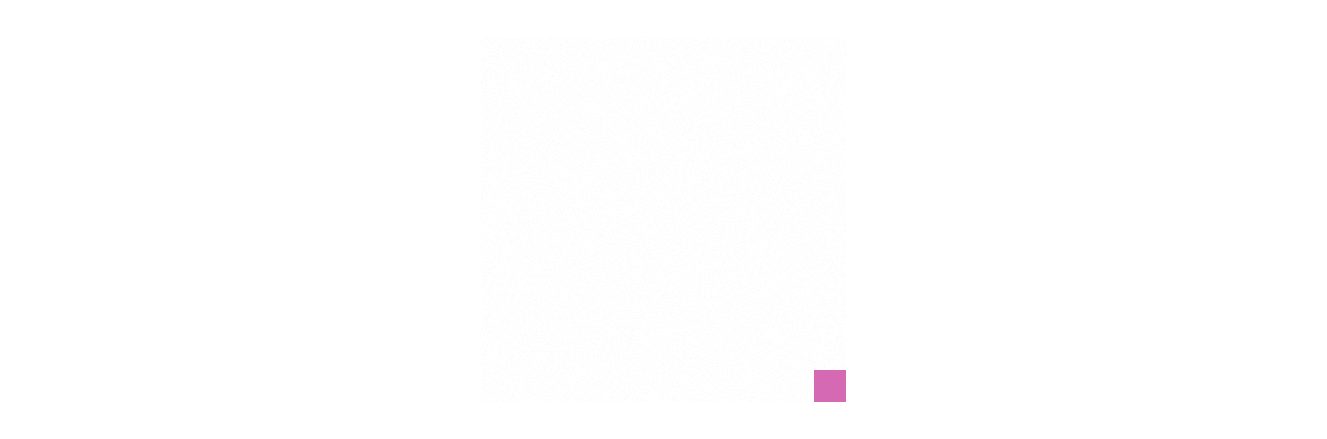À primeira vista, parece impossível ler a sentença que dá nome ao terceiro longa-metragem da realizadora chilena Dominga Sotomayor sem sermos tomados por uma sensação sombria, aterrorizante. Como se estivéssemos à frente de um tipo de maldição. Imediatamente, surge a pergunta inevitável: não há mesmo saída? Se procurarmos as raízes etimológicas da palavra “tradição”, encontraremos algo próximo ao sentido de entregar, passar adiante o que se tem. Aumentam os calafrios. Que se traga o cinema para o jogo: o que há em comum entre as densas linhas de horizonte de John Ford e o breu das sombras de Murnau? Quando se acenderam as luzes ao final da primeira sessão de Noite e Neblina (1955), eram estas as questões que indiretamente aquele clarão insuportável tatuava nas retinas. É que a ideia de clausura faz parte da própria definição de terror: um não-afeto como ausência do possível.
Sabe-se que essa noção de sociedade como matiz de pulsões, ações e reflexões circunscrita por fronteiras pré-definidas já foi há tempos superada. Entretanto, há uma espécie de inquietude da qual nem a revolução dos corpos inaugurada pelo “cinema moderno” conseguiu se livrar. Algo subsiste, queima, nos revira as tripas. E a essa ponta solta só se chega pela via negativa, por eliminação e descarte, como um Resta Um sem tabuleiro.
Pois bem. A primeira coisa a se notar é que, no filme de Sotomayor, parte significativa desse trabalho é executada pelo posicionamento estratégico dos seus acontecimentos na linha do tempo histórico, um átimo alojado entre a queda de um governo ditatorial e a implantação da democracia. Mas isso é insuficiente, é claro. O que de fato importa aqui obedece a um axioma que é frequentemente ignorado e/ou mal compreendido: a modulação ótima de um espaço-tempo definido não nos desloca no tempo, mas do tempo. De reféns a testemunhas. Godard já havia dito isto com outras palavras: só os filmes ruins são feitos no presente. É nesse sentido que a porta no plano de abertura de Tarde para Morrer Jovem não é a do carro que espera o próximo passageiro, mas a via de acesso a uma espécie de protouniverso onipresente, uma fundação elementar do porvir. Digamos de outro modo: não há começo, mas carona.
Embarquemos, então. Em meio à natureza, num local aparentemente isolado, homens e mulheres conversam, debatem. Parecem discutir a respeito da energia elétrica e do fornecimento de água. Ouvem-se alguns risos. Crianças brincam e jovens se reúnem numa roda de música. Há carros, motos, bicicletas. Também casas. São famílias inteiras que se presume sejam conhecidas de longa data. Todo esse frenesi é acompanhado com diligência por um olhar discreto e atento, como se houvesse algo despretensiosamente suspeito em cada gesto, movimento facial, latido, sopro de vento, reflexo de luz ou tom de voz. A integridade dessa postura implica uma implacável dissolução de hierarquias: pessoas, animais, plantas, casas, veículos e móveis recebem o mesmo tratamento compassivo e rigoroso de uma autêntica investigação sem objeto. A curto prazo, é uma empreitada bem semelhante à de praticamente toda a filmografia da americana Kelly Reichardt. Ou seja, uma teimosa busca pela fresta que sobra. A consciência de que o nascimento da única informação relevante depende de uma calibragem adequada da percepção em si do intervalo. De uma citação, filmar as aspas, como Serge Daney dizia do olhar de Antonioni.
Desta hipersensibilidade (ou democracia do visível) resultam algumas consequências. É difícil aqui detectar e/ou eleger uma personagem protagonista. Por tudo que já foi dito, fica evidente que essa é uma narrativa que não se desenvolve como irradiação de círculos concêntricos. Mesmo Clara (Magdalena Tótoro) e principalmente Sofia (Demian Hernández), de presenças mais intensas e fronteiras mais ponderáveis desde o princípio, evoluem perambulando por entre demandas difusas, que se apagam e retomam como efeitos sem causa. Seria antes uma propagação de interferências. Logo, seguindo a fórmula de Lapoujade, se trata menos de montagem do que uma “mostragem”. É tendo isso em mente que os raros desenquadramentos, que poderiam a princípio soar como tiques ou maneirismo, aparecem no filme como mero sintoma dessa insubordinação a eixos. Sua assimetria não manifesta a reminiscência de uma eventual abertura ao Alhures, como sugeria Deleuze. Ora, aqui a noção de espaço on/off já carece de sentido.
Mas o efeito realmente fundamental desta abordagem é o de indiretamente filtrar e isolar à nossa apreensão a crueza de uma condição primordial, tipicamente cinematográfica. Aquilo para onde o ”ser é ser percebido” de Beckett apontava. É o que fica bem claro desde a primeira manifestação no filme de uma ideia de convívio social: uma comunhão como sobreposição de olhares. Crianças, jovens, adultos. Todas as combinações possíveis. Um caleidoscópio de afetos que só se altera em função do que se funde. É por isso que, desafiando as aparências, se trata menos de um filme sobre transição do que interseção. O holograma-germe de uma sociedade.
Clara admira Lucas (Antar Machado), que é obcecado por Sofia, que sonha acordada com Ignácio (Matías Oviedo), que tem amigos suspeitos. Há um assalto nas redondezas, onde se espalha a notícia de que há um cavalo morto empesteando o rio. Crianças debatem entre si, contestando o boato que lhes foi contado pelos adultos. Estes discutem a respeito de um desvio clandestino de água e acompanham os ensaios da banda de Lucas e outros jovens, cujas amigas têm ciúmes da beleza de Sofia. Esta é filha de uma música aparentemente famosa como a mãe de Clara, que recebe a ajuda de um dos suspeitos para recuperar uma cachorra perdida. Onde está Frida? É a mesma pergunta que Olivier Assayas já fizera em Desordem (1986) e principalmente em L’enfant de l’hiver (1989), mas de outra maneira. Que frio inóspito é esse que precede a superfície congelada e escorregadia da escolha? Por que a mãe de Sofia nunca chega nem aparece? Para além de uma justificativa psicológica confortável para o comportamento da personagem, a ausência da figura materna surge aqui como autêntica emanação do não atendido, um não-cuidado como carinho que falta a cada ato: perder (e procurar) a cachorra; deixar (e ser deixado) para trás. Na poeira que Frida levanta, buscar é fugir, e vice-versa. É a opacidade da periferia que tangencia, espiando do lado de fora, toda a obra de Robert Bresson e parte da de Rohmer, especialmente nos seus contos morais. Seu breve espectro, demarcando aqui, de direito, as fronteiras da diegese.

Do deslizamento por entre essa efemeridade de impulsos forma-se uma sutil rede de interdependências, de uma precariedade tão grave e solene quanto tudo ao que todos e todas ali aparentemente se recusam a pertencer. Não surpreende que o elemento mais recorrente deste autoexílio coletivo seja uma insólita casa sem paredes. Uns têm luz elétrica, outros água; aparelhos de rádio amador, piscinas particulares. Uma permuta incógnita de lixo e luxo seletivos em que o único relevo é o do próprio optar. Mas o mínimo que nos cabe é superar o surrado clichê da metáfora. Transbordando de cada feixe de olhares e afeições, a aventura de Clara, Lucas e Sofia é a de um atualizar-se no mundo que precede a ele próprio, um pertencer como devir de perplexidade e deslumbre. Destas conexões fracas e incipientes que já esboçam a topografia prévia de uma eterna encruzilhada, o indelével se eleva necessariamente como um tipo de refúgio sagrado, objeto de adoração e desejo. A miragem de uma âncora. Já era assim com a assustadora cicatriz de Ignácio, que dava as caras como pista logo no primeiro ato. Lucas só decide queimar suas músicas ruins porque tem fé na permanência das boas. Clara e as crianças adotaram a única galinha que sobreviveu após um ataque no galinheiro. É uma jornada que mantém com o ambiente que a cerca uma relação de dupla dependência, em que ambos ao mesmo tempo reverberam e são reverberados. Origem e extensão. Quando anoitece, a casa de Sofia está sempre a alguns sopros da escuridão.
Não se demora a perceber que essa estranha intuição de que tudo está por um fio, a nos perseguir desde o plano de abertura, se intensifica gradualmente. À medida que vemos com mais frequência os preparativos de todos para uma aguardada festa de fim de ano no local, vai se tornando mais nítida a sensação de que, a cada nova superposição, essa nuvem de indeterminações e possibilidades avança rumo a uma espécie de caso-limite, de colapso. Chega a noite de ano-novo, e, num ritmo cada vez mais acelerado, cada nova mescla de olhares parece convergir vertiginosamente se refratando em direção a um mesmo ponto de fuga. No trajeto, sob luzes de cores misturadas, sempre a música, os músicos, o rito. Falta energia, ouvem-se fogos. É um novo ano, não se sabe qual. E é agora, como se estivesse enfim perdendo suas primeiras amarras que esse fundir-se resvala e ousa se apropriar da forma não como mera alegoria ou símbolo, mas per se, gozando de vida autônoma; desarmado e revelador tal o foco de uma lanterna na penumbra. É a canção de Sofia. Como também dela eram as pilhas e a pequena lâmpada. Calmaria antes da tempestade, consciência como dádiva e maldição.
No primeiro parágrafo de seu famoso texto Metaphors on vision, Stan Brakhage perguntava: quantas cores há num gramado para um bebê sem consciência do “verde”? Tão instigante quanto esta questão é o fato de como eventualmente há uma manhã, tarde ou noite de nossa infância ou adolescência na qual tudo que viveremos e já havíamos vivido parece passar de uma só vez à frente de nossos olhos, como um tipo de verdade fundamental. Magnífica e insuportável. É o destino de Clara, Lucas e Sofia. Assim, mais do que a manifestação em si do puro ato de celebração social e todo o conjunto de códigos pré-estabelecidos que lhe é inerente, as sequências da noite de réveillon são o transe de uma conjunção definitiva, a exposição do resíduo. A grade de um ralo onde nada resta agora que não seja o confronto com a própria contradição.
É o limite do latente, o estouro do visível. Um ponto de máximo que é ele mesmo autocombustão e derretimento. Nesta rendição traiçoeira do caché, a fumaça sobe junto com o sol. Mais do que uma necessidade básica, seria um tipo de premonição a obsessão das personagens pela questão da água? As folhas já queimavam sob os olhos de Clara, que eram também os de Sofia. E os de Lucas. E os de Ignácio e seus amigos suspeitos. E quem não era nesse suspense de fato? Que um dia Bresson tenha usado a analogia “traduzir o vento invisível através da água que ele esculpe passando” para descrever um padrão de postura cinematográfica que aqui resultou no próprio nascimento do fogo é algo de uma sublime e desconcertante ironia da natureza. Ora, Fervura também era o nome do gato esquivo de Em Chamas (2018), de Lee Chang-dong. Mas e aqui, para onde foi a cachorra? Ela realmente havia voltado? Todo fogo é o mesmo. Já o era na fogueira da emblemática sequência da festa na casa abandonada de Água Fria (1994). E é precisamente só ela que resta, tanto lá quanto aqui. Entre o incêndio na floresta e o banho na queda d’água do rio, o choro de Sofia se confunde com o grito da menina no final de Tenho Fome, Tenho Frio (1983), de Chantal Akerman. Coming of age? Sim, também. Ritual de iniciação? É dizer muito pouco. É creditar à herança a sensibilidade inata de uma percepção que vislumbra justamente quão frágeis são os alicerces em que aquela se sustenta. Mesmo sob as melhores intenções, o que é ainda mais difícil.
O que fazer então? “Todos têm os seus motivos”, dizia Jean Renoir. Mas também é evidente que, ilusão ou não, a ideia de comunidade é inescapável. No mínimo, um adaptar-se necessário. Traduzindo para os dias atuais, resistência. Se o suposto ceticismo da diretora contrasta com o fato de ela ser uma das idealizadoras do CCC (Centro de Cinema e Criação, em Santiago), é porque, longe de isso soar como uma contradição, ela tem plena consciência da importância do papel da arte nesse processo. E de como frequentemente o tiro acaba saindo pela culatra. Chegar aos seres e às coisas antes de eles serem solicitados é o que pediria Daney. O espanto de Sofia é o nosso, o estranhamento de Clara e a desconfiança de Frida também. Parece que a célebre frase de Humberto Mauro mais uma vez faz todo o sentido: sim, “cinema é cachoeira”.