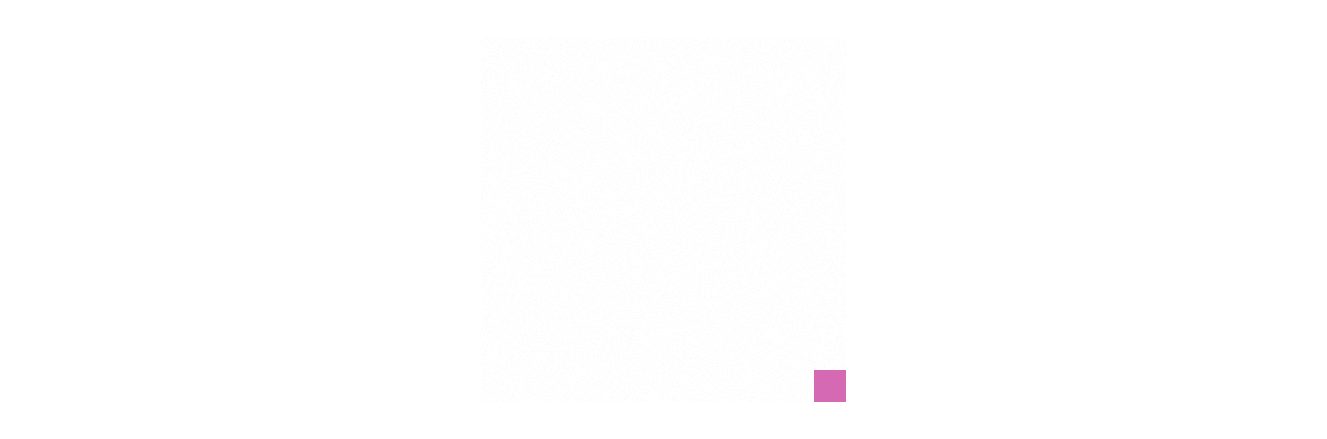Uma das coisas mais espantosas destes mais de 120 anos de aventura do cinema é o fato de como uma frase aparentemente tão simples foi capaz de mudar por completo o rumo de sua história: “as coisas estão aí, por que manipulá-las?” Acontece que de simples essa célebre frase de Rossellini não tem absolutamente nada. Pelo contrário, é traiçoeira, sacana. Uma cilada. É verdadeira e falsa, certa e errada, e é no entorno de seu paradoxo que se alvoroça todo o pensar e fazer cinematográfico. É isto: fundamentado no desequilíbrio devir/intervir, o cinema fez e faz dessa tensão o seu impulso.
Mas tudo tem um preço. E a conta a pagar por essa defasagem foi cara, com juros cobrados até hoje. Confundindo-se com a memória do século da bomba atômica, o que era desilusão já em História(s) do Cinema (Jean-Luc Godard, 1989) agora se converte em culpa. Conciliar-se com a História em um cenário apocalíptico de pós-verdade que lhe é algoz e rebento é o que resta ao cinema, sua expiação, a única saída.
Há aproximadamente 100 anos, lá pelo início dos anos 1920, Robert Flaherty levava às telas do cinema aquilo que seria a ideia mais pura de ação já filmada. Nanook é o homem prático, a personalização do necessário. Mesmo quando brinca cada movimento seu é um ato de sobrevivência, uma resposta imediata às intempéries do ambiente que o cerca. O que faria o Nanook do século XXI? Ele perdeu sua companheira de uma vida inteira e seu cachorro fiel. Só lhe resta uma foto, a de sua única filha, que deixou a casa há anos para trabalhar numa grande mina que agora existe no local. Se um dia Rancière usou o cinema de Bresson pra questionar no âmago todo o postulado de Deleuze, foi porque havia algo ali mal explicado, um pequeno-grande mal-entendido: quando a ação é afeto? Quando o afeto é ação? Quem define essa fronteira?
A situação acima descrita é do filme Ága (2018), do búlgaro Milko Lazarov. Da velha foto sobre a mesa do solitário esquimó à lágrima da filha em contracampo quando percebe a presença do pai, que agora a observa com gravidade em seu inóspito local de trabalho, tudo mudou. Mais do que um emblema, essa redefinição de necessidade do nosso Nanook dos 2020 é também a do cinema, devedor confesso e contumaz de longa data.
O que começou como sublime revelação em Stromboli (Roberto Rossellini, 1950) acabou na parcela anual de pastiches de Tarkovski presente nos festivais do mundo inteiro. Fechou-se o mesmo ciclo que havia encerrado na metade do século XX, só que às avessas. Fantasiada de “novas imagens”, viciou-se mais uma vez a ficção. A questão parece clara e é uma só: onde estão a urgência, as vísceras, o tal escândalo? É possível recuperá-los? Se sim, como?
Descobrira-se o corpo, ao preço de transformá-lo em marionete. É um cenário de seres exaustos, sobrecarregados por uma tarefa que não é e nunca foi só deles. Se Hong Sang-soo hoje é um dos grandes realizadores em atividade isso se deve justamente por ele partir dos sintomas desses corpos “de cinema”, por ser uma espécie de redentor de toda essa massa que adormece desabando um tombo silencioso, plácido, porque ultrapassa o limite do desespero. É aquela antiga queda dos corpos tão cara aos Cinemas Novos, mas elevada à enésima potência. O fato de Sang-soo extrair desses corpos enfadados justamente a beleza esquecida da ficção pura, da encenação presente no romancear de cada mentira ou verdade, como um vigilante em busca do relativo, é o que faz de sua obra algo absolutamente sem par.
Seja pela via inversa de Hong Sang-soo ou por um simples abrir os olhos que se depara com o cenário que o mundo de hoje nos apresenta, o que se nos insinua é a primazia da ação como ficção, e vice-versa. Espremida entre o ver e o dever sem se confundir com nenhum deles, é antes um ato de fé, não só nos corpos, mas num contar como sinônimo de humanidade.
Num contexto em que utopia e distopia já não se distinguem mais, é justamente isso que resta em filmes como Sem Rastros (Debra Granik, 2018) e principalmente A Luz no Fim do Mundo (Casey Affleck, 2019), que de certa forma funcionam como espelhos um do outro: um contar para e com alguém como mesmo ato de resistência de uma espécie que só sobrevive em função de seu poder de fábula. Será mesmo esse o nosso destino?
Vidente ou profeta, há dez anos o argentino Mariano Llinás já havia elevado o ato de fabular a um status nunca antes visto, quase absoluto. Em Histórias Extraordinárias (2008), pela primeira vez o que se viam não eram histórias, mas o próprio contar. Visível, palpável, autônomo. Completamente nu, alheio a qualquer servilismo narrativo. Exposto e entregue às aventuras de desbravar o seu próprio relevo. Mas estamos no alto inverno, é preciso um machado bem afiado para cortar a lenha, mesmo na casa dos videntes. Tal qual o nosso Nanook dos anos 2020, Llinás complexifica ainda mais a equação no monumental La flor (2018), fazendo da codificação dos mais variados gêneros e narrativas audiovisuais o léxico do seu puro contar, que está todo ali.

Seja na Argentina, no Brasil ou no resto do mundo, onde não há nada que não seja absoluta dormência, expressão se confunde com ferro quente ou fio de navalha. Urgência? Sequer há tempo para ponderar o que isso significa. Renegociar a arqueologia, subverter expectativas valendo-se da carga semântica dos próprios arquétipos. É aqui que reside toda a importância nos dias atuais de um cinema de gênero que se reconhece como tal. A salvação do cinema passa justamente por um acerto de contas com seu próprio arcabouço de imagens, a ferro e a fogo.
No penetrante The Two Faces of a Bamiléké Woman (2018), o rosto marcado da mãe da realizadora camaronesa Rosine Mbakam só se desarma quando iluminado pelas luzes da projeção de A Negra de… (Ousmane Sembéne, 1966), como se em um instante para ela tudo ali fizesse sentido, pela primeira vez. Em La película infinita (Leandro Listorti, 2018), imagens inéditas de filmes inacabados reúnem-se formando um organismo vivo, que se move em função somente daquilo que todas elas têm em comum: poderia ser. Um andarilho errante, objetos jogados numa fogueira, propaganda nacionalista, jovens na estrada, um detetive e um assassinato… Redimidas, todas elas.
A intervenção é incisiva, não há escolha. As armas que as quatro protagonistas de Assassination Nation (Sam Levinson, 2018) empunham saíram da casa de um honrado “cidadão de bem”. Mesmo na estética, o que aqui separa violência de sobrevivência? Para o bem ou para o mal, assustemo-nos: ante uma quase surdez, o vômito do “monólogo” final acaricia os ouvidos como se fosse o sussurro de um anjo. A sobriedade nunca esteve tão próxima do excesso. E é esse insólito híbrido que faz Vox Lux (Brady Corbet, 2018) ser talvez o primeiro filme em que solenidade se confunde com a mais absoluta necessidade.
Nesse cenário, até o famoso “estar lá” da câmera, um dia arauto do já expirado ideal baziniano de cinema, adquire uma conotação distinta. Pois se todo “molde do tempo” implica a seleção de coordenadas objetivas num espaço-tempo que também é social e histórico, que ele esteja no lugar e na hora certa. Ou melhor, que ele mesmo faça e redefina a História. Para além da ingênua (e até embaraçosa) tentativa de por vezes submeter a crueza de suas imagens a velhos e esterilizantes esquemas narrativos, é essa rara conjunção que por si só faz de For Sama (Waad al-Kateab & Edward Watts, 2019) um filme tão forte. No vórtex de Aleppo, o olhar da síria, causa e efeito de uma História que se faz a um palmo de sua objetiva. Sama é filha e filme, guerra e possibilidade.
À parte as importantes questões relacionadas às etapas de produção e distribuição, se Martin Scorsese usou as palavras erradas para falar a coisa certa no seu famoso ataque à Marvel e seus super-heróis, que tomou conta das manchetes em 2019, ele não o fez por questões relacionadas a uma suposta madureza ou infantilidade de um ou outro cinema, mas por ter a plena consciência de um simples fato que salta aos olhos: desgastou-se a metáfora. Não a Metáfora, figura de linguagem potente, mas uma vertente bem específica, surrada, cuja conveniência realça desmedidamente a parcela inescapável de corrupção inerente a qualquer instância desse complexo e mal compreendido processo de significação.
É a era da metonímia, da sinédoque. De dar a cara a tapa. De um ascetismo que só é livre na medida em que se recusa a romper aquele filete que nos liga às demandas da terra e do homem. Nada mais justo do que reencontrar a figura de linguagem mais rancorosa, aquela que simplesmente se nega a esquecer quem lhe pisou nos calos.
Mas estará o cinema disposto a isso? Mais importante ainda: estará ele disposto a negar a si mesmo se for preciso? As palavras têm força, e uma má escolha pode transformar um bem-intencionado paladino em carrasco de sua própria causa. Ironicamente, na aurora dos anos 20, os holofotes apontam para o mesmo mote que pipocara nas salas de Paris há exatos cem anos. Sim, a criança mimada que queria a atenção dos pais e a beata centenária ranzinza e teimosa em quem se transformou gritam a mesma coisa: “eu sou o verdadeiro cinema”. Mesmo considerando a absoluta nobreza da causa, o ressurgimento do ideal caduco e elitista de pureza cinematográfica que algumas hordas extraíram com rapidez da declaração de Scorsese acende um gigante sinal amarelo.
Após lermos o Editorial dos Cahiers du Cinéma a propósito de seu Top 10 da década, um desconforto se instala imediatamente em nossa cabeça, em forma de pergunta: será mesmo que a redenção está no cinema, como ali se sugere? A tendência é o audiovisual ser tratado como um bloco único, isso é certo. Mas será mesmo o cinema o herói que estende a mão para salvar a TV? Ou seria justamente o contrário? É uma zona cinzenta perigosa. Vivemos uma era híbrida e de transição em que, mais do que nunca, é preciso atenção.
Não esqueçamos o que o fim do século passado nos ensinou: o cinema por si só não basta. Ele será socorrido pela pintura, como em Uma Mulher Alta (Kantemir Balagov, 2019) ou até em O Hotel às Margens do Rio (Hong Sang-soo, 2018); pelo teatro, como em A Bread Factory (Patrick Wang, 2018); por uma série de espionagem, como em La flor. Ou mesmo pela telenovela, como em Tel Aviv em Chamas (Sameh Zoabi, 2018) e La Telenovela Errante (Raoul Ruiz & Valeria Sarmiento, 2017). Ter plena consciência dessa condição talvez seja a provação definitiva de um ato de fé que arrasta consigo o último dos sacrifícios. Apagar-se, se necessário for.
Estaria o cinema alcançando a História? Isso é realmente possível ou uma miragem? Pode-se dizer que um filme como Imagem e Palavra (Jean-Luc Godard, 2018) parece sofrer os sintomas de quem antevê o intervalo-limite dessa aproximação. Filme-vertigem, espelho do tempo; como um ritual de iniciação, é o transe a ser superado. Não há saída ilesa.
Lá pela metade de seu Santiago, Itália (2018), num plano americano no estreito corredor de um prédio público, Nanni Moretti responde a um militar da era Pinochet que lhe concedia entrevista: “mas eu não sou imparcial”. Enfiado entre os Andes e o Pacífico, na capital do país que talvez seja o estudo de caso mais emblemático do século XX e que hoje novamente postula uma vanguarda na História, nosso Nanook ainda tem fome, sede e frio. E uma lança pontuda.
A lista
Meu critério é bem simples: filmes lançados a partir de 2018, vistos pela primeira vez em 2019. A inclusão na lista não depende de um eventual lançamento no Brasil. Eis meus destaques, em ordem de preferência:
1. La flor (Mariano Llinás, Argentina, 2018)
2. Zombi Child (Bertrand Bonello, França, 2019)
3. Longa Jornada Noite Adentro (Bi Gan, China/França, 2018)
4. Inferninho (Pedro Diógenes & Guto Parente, Brasil, 2018)
5. Os Garotos Selvagens (Bertrand Mandico, França, 2017)
6. Em Chamas (Lee Chang-dong, Coreia do Sul/Japão, 2018)
7. Atlantique (Mati Diop, Senegal et al., 2019)
8. O Hotel às Margens do Rio (Hong Sang-soo, Coreia do Sul, 2018)
9. Diamantino (Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt, Portugal et al., 2018)
10. Sem Rastros (Debra Granik, EUA/Canadá, 2018)
11. Feliz como Lázaro (Alice Rohrwacher, Itália et al., 2018)
12. Sophia Antipolis (Virgil Vernier, França, 2018)
13. The Two Faces of a Bamiléké Woman (Rosine Mbakam, Camarões, 2018)
14. Imagem e Palavra (Jean-Luc Godard, Suíça/França, 2018)
15. Em Trânsito (Christian Petzold, Alemanha/França, 2018)
16. Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (Renée Nader Messora & João Salaviza, Portugal/Brasil, 2018)
17. O Professor Substituto (Sébastien Marnier, França, 2018)
18. Unas Preguntas (Kristina Konrad, Uruguai/Alemanha, 2018)
19. John Wick 3: Parabellum (Chad Stahelski, EUA, 2019)
20. No Coração do Mundo (Gabriel Martins & Maurílio Martins, Brasil, 2019)
21. Amanda (Mikhaël Hers, França, 2018)
22. La Telenovela Errante (Raoul Ruiz & Valeria Sarmiento, Chile, 2017)
23. As Boas Maneiras (Juliana Rojas & Marco Dutra, Brasil et al., 2017)
24. Cocote (Nelson Carlo de Los Santos Arias, República Dominicana et al., 2017)
25. As Herdeiras (Marcelo Martinessi, Paraguai et al., 2018)
26. Sol Alegria (Tavinho Teixeira, Brasil, 2018)
27. Notes on an Appearance (Ricky D’Ambrose, EUA, 2018)
28. Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar (Marcelo Gomes, Brasil, 2019)
29. Antologia da Cidade Fantasma (Denis Côté, Canadá, 2019)
30. Uma Mulher Alta (Kantemir Balagov, Rússia, 2019)
31. Vox Lux (Brady Corbet, EUA, 2018)
32. Faca no Coração (Yann Gonzalez, França/México, 2018)
33. As Golpistas (Lorene Scafaria, EUA, 2019)
34. In My Room (Ulrich Köhler, Alemanha/Itália, 2018)
35. Uma Mulher em Guerra (Benedikt Erlingsson, Islândia et al., 2018)
36. Clímax (Gaspar Noé, França/Bélgica, 2018)
37. L’île au trésor (Guillaume Brac, França, 2018)
38. Divino Amor (Gabriel Mascaro, Brasil et al., 2019)
39. Meteorlar (Gürkan Keltek, Holanda, 2017)
40. Eu não me Importo se Entrarmos para a História como Bárbaros (Radu Jude, Romênia et al., 2018)
41. Parasita (Bong Joon-ho, Coreia do Sul, 2019)
42. Assassination Nation (Sam Levinson, EUA, 2018)
43. La película infinita (Leandro Listorti, Argentina, 2018)
44. O Irlandês (Martin Scorsese, EUA, 2019)
45. High Life (Claire Denis, França et al., 2018)
46. Santiago, Itália (Nanni Moretti, Itália et al., 2018)
47. Sibel (Çagla Zenciri & Guillaume Giovanetti, Turquia et al., 2018)
48. A Luz no Fim do Mundo (Casey Affleck, EUA, 2019)
49. Krabi 2562 (Ben Rivers & Anocha Swichakornpong, Tailândia/Reino Unido, 2019)
50. Missão Impossível – Efeito Fallout (Cristopher McQuarrie, EUA et al., 2018)
+
51. In Fabric (Peter Strickland, Reino Unido, 2018)
52. Amor Até as Cinzas (Jia Zhangke, China et al., 2018)
53. Luz (Tilman Singer, Alemanha, 2018)
54. Temporada (André Novais Oliveira, Brasil, 2018)
55. Finalmente Livres (Pierre Salvadori, França, 2018)
56. The Farewell (Lulu Wang, EUA/China, 2019)
57. Tarde Para Morrer Jovem (Dominga Sotomayor, Chile et al., 2018)
58. Guy (Alex Lutz, França, 2018)
59. Minha Filha (Laura Bispuri, Itália et al., 2018)
60. A Jaqueta de Couro de Cervo (Quentin Dupieux, França, 2019)
61. Breve História do Planeta Verde (Santiago Loza, Argentina et al., 2019)
62. História de um Casamento (Noah Baumbach, EUA/Reino Unido, 2019)
63. Pássaros de Verão (Ciro Guerra & Cristina Gallego, Colômbia et al., 2018)
64. Bacurau (Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles, Brasil/França, 2019)
65. Homem-Aranha: No Aranhaverso (Rodney Rothman et al., EUA, 2018)
66. Heimat is a Space in Time (Thomas Heise, Alemanha, 2019)
67. Nikita Lavretski (Nikita Lavretski, Bielorrússia, 2019)
68. Futebol Infinito (Corneliu Porumboiu, Romênia, 2018)
69. Belmonte (Federico Veiroj, Uruguai et al., 2018)
70. White Noise (Antoine d’Agata, França, 2019)
71. Genèse (Philippe Lesage, Canadá, 2018)
72. Asako I & II (Ryûsuke Hamaguchi, Japão/França, 2018)
73. For Sama (Waad Al-Kateab & Edward Watts, Síria/Reino Unido, 2019)
74. Assunto de Família (Hirokazu Koreeda, Japão, 2018)
75. Djamilia (Aminatou Echard, França, 2018)
76. Bêtes blondes (Maxime Matray & Alexia Walther, França/Suíça, 2018)
77. Ray & Liz (Richard Billingham, Reino Unido, 2018)
78. Dead Souls (Wang Bing, França/Suíça, 2018)
79. Uma Terra Imaginada (Yeo Siew Hua, Singapura et al., 2018)
80. Selvagem (Camille Vidal-Naquet, França, 2018)
81. A Árvore dos Frutos Selvagens (Nuri Bilge Ceylan, Turquia et al., 2018)
82. Conquistar, Amar e Viver Intensamente (Cristophe Honoré, França, 2018)
83. Verão (Kirill Serebrennikov, Rússia/França, 2018)
84. Girl (Lukas Dhont, Bélgica/Holanda, 2018)
85. Synonymes (Nadav Lapid, Israel et al., 2019)
86. Vermelho Sol (Benjamin Naishtat, Argentina et al., 2018)
87. O Outro Lado do Vento (Orson Welles, EUA et al., 2018)
88. Dragged Across Concrete (S. Craig Zahler, EUA/Canadá, 2018)
89. Samui Song (Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia et al., 2017)
90. Support the Girls (Anrdrew Bujalski, EUA, 2018)
91. Las niñas bien (Alejandra Márquez Abella, México, 2018)
92. Rosas Venenosas (Fawzi Saleh, Egito, 2018)
93. Vidas Duplas (Olivier Assayas, França, 2018)
94. Dogman (Matteo Garrone, Itália/França, 2018)
95. A Favorita (Yorgos Lanthimos, EUA et al., 2018)
96. Museu (Alonso Ruizpalacios, México, 2018)
97. Border (Ali Abbasi, Suécia/Dinamarca, 2018)
98. Sorry to Bother You (Boots Riley, EUA, 2018)
99. Permanent Green Light (Dennis Cooper & Zac Farley, França, 2018)
100. Volcano (Roman Bondarchuk, Ucrânia et al., 2018)